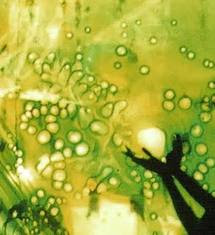Seis horas e nada, só o sol. Ilumina a casa, ilumina o quarto, ilumina… Parece ter dormido bem. Bom dia! Eu aqui por meu lado não posso dizer o mesmo: mais uma noite vagando a sombra, correndo o silêncio… nenhuma resposta. Saberia você me responder ou, estrela que é, seguirá suas amigas lá pro lado de lá, uma noite e um dia, me largando aqui pra trás? Quero saber da luz! Da sombra também, – êta sombra! – ontem e agora; pois que tudo se esconde pra se mostrar em seguida, ainda encoberto…
Estranho. Da noite o dia e este ar secando a garganta e o pensamento. Parece nem perceber que é. Ora, deixa a noite pra trás! Se ela já te abandonou… Levanta, segue seu caminho, deixa, deixa…
Um pouco de água.
Brilha, brinca. Que coisa este sol! Dentro da água como se parte dela, como se a conhecesse por força, por ser. E eu? Conta. Só um pouco de entendimento, só um pouquinho. Das perguntas que ouço e faço, das que investigo, das que nem mesmo chego a suspeitar…
Ela foi mesmo pra lá? Lá pro lado de lá? Não quis me contar… Conta, então, você: viu minha mãe por lá? Viu ou não viu? Ora, deixa de bancar o bobo. Como se não fosse pra lá toda noite. Tá bem, se não quer não fala. Esquece.
Você é como ela, pensam que eu não entendo. Só que eu não sou burro não, viu? Não sou. Tanto que fui o único com quem ela pôde contar. O único! Ora, e de que adianta isso agora? Ela já não te deixou?
— Por quê, mãe? Por quê?
Vai embora sol, vai você também. Acha que é só chegar e me tomar tudo? Nunca mais. Nunca mais!
Aparece, risca o céu e logo vai se esconder. Então vai tranquilo, sei que conhece bem seu caminho, mas por que não me conta do meu? Sim, eu sei, eu sei… Mas se só eu posso, por que não me ajuda? Por que não me ilumina? Segue em frente sem nem me notar, sem um carinho, só pra me atormentar… como ela.
— Não adianta. Pode gritar o quanto quiser. Não adianta.
Faço eu meu caminho. Saio desta casa. Busco meu destino.
E esta árvore bem em cima do túmulo? Deviam te arrancar. Tinha de nascer logo aí? Só pra me avisar todo dia? Mãe, conta, o que é que eu faço? Quero tanto… O que é que eu faço? Mas não grita, mãe, não grita. Por que você sempre faz assim?
— Eu já disse que não adianta, não disse?
— Aqui não é tua casa, rapaz. Gritar não vai te ajudar.
Era calma sua voz, bem calma. De onde, então, o medo que eu sentia? Parecia o zoológico.
— Relaxa. A gente só quer te ajudar.
— Eu não fiz nada.
— Eu sei, eu sei.
— Foi ela que pediu…
Deram-me umas roupas muito limpas, eu me lembro, nem tinham meu cheiro. Disseram que depois devolviam as minhas. Nelas foi junto o João. Fiquei só, eu.
Em volta só um azul, meio sujo, mas um cheiro de limpeza. A cama macia.
— Dorme. Pode dormir.
Como se sobre a cama se abrisse um olhar e, tranquilo, deixasse apagar. E do quarto nada, da fonte só uma gota. Nada de mais. Ao lado a senhora observando o sono, uma ponta de dúvida arregalada, meio escondida. Talvez não querendo estar ali. Pensando mesmo em como é que podia ser uma coisa daquelas. Menino ainda…
Chave medrosa, na ponta dos dedos balança indecisa, mas acaba por se decidir: duas voltas no ferrolho e se vai. Para trás só o cheiro de pinho e as paredes vazias, uma cadeira e a cama guardando um sono amargo, mais sabido que o dono; um sono esquecido, que mesmo com esforço não lembraria do sorriso que se fez – a mãe logo ali – para logo se apagar; a angústia de perder a quem se tem, martírio de toda noite. Agita o corpo todo, ameaça mesmo um soco, mas o sono sempre esquece, se droga e esquece…
Da porta, um corredor escuro até alguma luz. O passo inquieto pedindo, um olhar a recebeu, o posto de enfermagem cansado pelo adiantado da hora.
— Não passa de um garoto…
— Tem a força de um homem.
— Sim, mas não passa de um menino.
A colega olhou o chão, o que adiantaria argumentar? O que fez, o que deixou de fazer… Realmente era um menino, provavelmente gostava de jogar bola e mascar chiclete, sair por aí em grupo com ares de quem tudo pode só pra ter coragem de ser alguém, aí arranjar uma briga na rua, ou pior, em casa. É, um menino como tantos outros, como o que eu tenho lá em casa… Minha Nossa Senhora! Não. Não como o meu filho. Meu filho nunca faria tal coisa.
— É um monstro!
— É doente.
Os olhos se medindo, resolveram pelo silêncio. Do silêncio um pouco de paz, ao menos. E assim, um sorriso, uma bala e a noite; lá no horizonte a manhã com pressa de trazer uma esperança. Quem sabe um pouco também de entendimento, e coragem, para avançar o corredor, rodar a chave, abrir a porta:
— Oi.
Fitou o rosto confuso como sempre, mais vontade que naturalidade.
— Tudo bem?
Fato, nada mais.
— Gostou da cama?
Dois passos e estendeu a mão, nada.
Achava que sempre compreendia, mas às vezes percebia que não. Nestas se perguntava pela certeza rotineira…
— Queria conversar com você.
A palavra, acreditava nela. De sua posse, sujeito. Teve de se contentar, porém, com o silêncio. Como se já não bastasse o que fizera.
Voltou no dia seguinte e no outro e no outro, porque acreditava na cura. Palavra por fonte, medicina por instrumento, tinha esperança. Até que chegou.
— O sol veio.
— É.
— Estou aqui.
Na verdade queria só o tempo, nada de passeios ou festas. Não entendia tudo aquilo, mas aceitou. Aceitou a roupa, aceitou seu quarto, recebeu um amigo. E, por um tempo ao menos, acreditou-se feliz; uma flor bordada na camisa. Até perceber, mais de ano, que nada se lhe recebia de seu. Procurou, tantas vezes se ofereceu, mas conseguiu apenas o mesmo olhar de aprendida compreensão. Não que não notassem, absolutamente, até mesmo reunião fizeram para discutir sua mudança de comportamento, mas outra resposta não souberam. De novo, uma tentativa de ajudá-lo, aumentaram a dose da sua medicação.
Desiludiu-se.
“Dr. Amigo,
Trago o coração riscado.
Sei da dedicação, mas não sei de mais. Há mais? Desde muito sinto toda noite um menos, para no dia seguinte se afagar, afastar; mas que nos últimos não se apaga. Fica forte quando se pensa, fica invencível quando se esquece.
Lá do lado de lá, quem sabe?
Até um dia,
João”
E fugiu.
Mas não escrevera tudo, pois não o saberia escrever, ou mesmo pensar. Do quanto ele próprio podia, da vida ponto e vírgula, das noites, dos dias… Mesmo sentir não sabia, do que o levou embora, uma liberdade que era só aspiração. Uma vingança.
Fugiu.
O ar lá fora mais pesado, – quem sabe voltar? – mas não era escolha de conforto ou tranquilidade. Mãos no bolso, camisa aberta, a lembrança das roupas do João, a certeza de que o que buscava só nu. Certeza? E o que é certeza? Incerto e nu, e sem nome, e assim à noite, escondido aos olhos dos que não querem ver, e assim ao dia.
— Ao sol.
Único companheiro.
À noite, então, completamente só; a não ser por ela mesma, a noite em si, a própria ausência, materializando-se em cada obstáculo, em cada pedra no meio do caminho. Ao menos uma pedra se pode chutar, chutar e seguir: direção marcada. Que outra coisa a fazer quando não se sabe a direção a seguir? Uma pedra, sim; um salto à frente. E a certeza que não se tem até uma nova pedra, como num jogo de amarelhinha: uma pedra, alguns saltos e se chega ao céu. Como numa brincadeira de criança…
Atirei o pau no gato, tô
Mas o gato, tô
Não morreu, reu, reu
Dona Chica, ca
Dimirou-se, se
Do berro, do berro
Que o gato deu
MIAU!
Então, em frente! Riacho seco, garrafa quebrada, pedra amiga… Pra onde vamos? Lá pro lado de lá. Lá é que é bom! Vai pedra, mostra então o caminho. Só não vai quebrar o vidro da vizinha, ela já nem troca mais os dela. Só rindo mesmo… A vizinha só pensa na filha; a moça tem cheiro, tem dengo. Por que não me olha? Por que me olha? Bem podia mais que olhar… nunca mais que um olhar. Ela tem fogo no olho. Faísca, fervente, feminina. Queima feito não sei o quê! Mas joga água quando sorrio… Falsária! Vou-me embora, pode esquecer, encontro quem me queira. Longe daqui. Daqui só uma árvore no lugar errado. Mãe, por que no lugar errado? Onde fica o lugar certo? Todo mundo procura, todo mundo me olha. Só olha, pareço artista de TV. Basta me desligar. Será que querem me desligar? Por que querem me desligar? Este cheiro no ar… fumaça, fogo, foguete… mas não cheira a queimado. Cheiro visguento, fedoroso, chilismento. Tá bom, tá bom, já tô indo. Engole sua fumaça sozinho! Não volto mais aqui, mesmo. Vou lá pro lado de lá que é muito melhor. Muito melhor! Bico de pato, tabaco em chumaço, trigueiro latindo, furunda no mato. Muito melhor.
— Pro lado de lá, mãe?
— É muito melhor.
— E eu?
— Me ajuda, filho. Por favor…
— Vou com você.
— Deixa, menino, deixa. Sua hora vai chegar.
— Eu quero ir…
— Não fica assim, não.
— Que qui eu faço?
— A vida…
— Sozinho, mãe?
— O sol.
— Do lado de lá?
— Filho, deixa…
— Do lado de lá…
Veio a noite e ela foi embora, pro lado de lá. Nem ensinou o caminho… Por que me levaram com eles? Fritubentos! Amarrado, assustado, molecote todo tremelicado. Nem um cobertor. Quanto frio! Fingidos fricotentos! Um chão poeirento e a parede toda marcada, que nojo! Nem palavra, nem cuidado. Só os outros cochichando:
— É ele.
— Sério?
— É.
— Só um moleque!
Moleque! Assassino, bandidinho, bandidão. Um olho alarmado, outro tranquilo; as mãos negras da sujeira. No fundo um sentado, gordo, medindo, coçando a careca. Gota de suor, palha de cadeira cutucando a orelha, um cuspe no chão.
— Deixa ele em paz.
— Mas é o…
— Em paz!
Nem um toque, espaço aberto. Na catacumba só rato; não se conta o que não se pensa, não se fixa assim o foco da estrela. De cada lado um olhar, amigo à direita, malévolo à esquerda. Só esquerda. O cheiro do mofo, uma olhadela à janela e só a dureza do chão para deitar.
— João!
Silêncio.
— João!
Sem resposta, enfureceu:
— Levanta daí, moleque.
Meio-dia ardendo, meio perdido, meio charmoso, tiveram de puxá-lo pelo chão.
— Ninguém vai te dá carinho aqui, não.
Na frente do delegado chorou.
— O que você tem a dizer?
Encolhido, desaprumado, encolheu-se ainda mais. Do outro lado quase pena:
— Não quer falar nada?
Até que lembrou:
— Tira esse olhar de bonzinho da cara, moleque!
No quase, segurou a bofetada já armada. A ética, a mídia… além do mais a mãe era dele. Arrumando o paletó voltou para a cadeira e acenou que o levassem embora. Esperou a porta fechar para resgatar uma garrafa.
— Como é que pode?
Deixou o gole surtir efeito antes de voltar aos bandidos. Às vezes era quase impossível manter a calma, mas era preciso, para acabar com eles. Prender, matar, trucidar! Mas não pode, não deve… é preciso evitar. Lei é lei: se não pode matar, então tranca. Eles lá e nós cá. Tá na Bíblia: inferno neles! O céu aos homens de boa vontade.
— Doutor, tem um cara aí querendo falar com o senhor.
— Quem é?
— Sei lá. Diz que é médico…
Médico? Fazer o quê aqui?
— Manda.
Entrou inquieto, um olhar morno a recebê-lo.
— Médico?
Percebeu a ironia. Tentou ao menos parecer ter certeza:
— Ele precisa se tratar.
— Tratar o quê?
Quis chamá-lo de ignorante, até por ter percebido que acabara de ser chamado assim, mas preferiu não.
— O senhor sabe, ele…
— Ele é louco, pirado!
Não era um diagnóstico, era uma condenação.
— Posso conversar com ele?
O delegado achou graça: para quê?
— Para saber do que ele é capaz basta ler o jornal, doutor.
— Por favor…
Teve pena: curar o garoto? Como existe gente ingênua! Por um instante, porém, chegou, ou melhor, quis até acreditar que ele pudesse melhorar, mesmo se arrepender… Já ía até chamando o carcereiro, mas se conteve. Sentiu uma coisa crescendo por dentro: uma certeza, com força de raiva, doída. Ou seria só raiva mesmo? Dolorida, machucada; muita, muita raiva! É essa gentinha que bota os bandidos na rua. Será possível que não percebem? Eles lá e nós cá. É o único jeito.
— Não.
— Mas…
Segurou o palavrão, o murro, o cuspe…o nojo:
— Não!
O doutor teve medo, partiu.
Voltou. Ainda o medo, mas escondido atrás de uma ordem judicial. Ao entregá-la sorriu, a coragem de um momento.
— Está no pátio…
No caminho, porém, o prazer foi passando, o momento se foi. Olhares ariscos, muita sujeira, olhares agressivos… Pensou em voltar atrás, não se entra no inferno para salvar o demônio. Mas fez força, concentrou-se: há esperança. Eu sou a esperança. Chegou:
— Eu sou amigo.
Nem mesmo um olhar.
— Eu sou AMIGO.
Agora sim, mas o olhar dizia que quem o olhava não era burro. Mudou de tática:
— Vou te tirar daqui.
Pouco caso.
— Você vai ficar bom.
Um chiclete.
— Vai poder voltar pra casa.
A lembrança da filha da vizinha. Morena…
Desisitu, um vinco no lábio. Andou até lá fora para uma nova discussão, palavra qualquer, com o delegado. Olho no olho, pareciam marido e mulher: um só, dividido. Foi-se, mas voltou. Dia sim, dia não. Medroso e corajoso, atento; sempre o vinco ali. No fundo parecia o chefe da cela:
— Por quê, garoto?
— O sol.
— Tá bom. Vai com Deus.
O dia estava claro, não deixava sombra pra raiva do delegado se esconder. Aperto apertado na mão, sorriso amarelo fingindo, não adiantou amainar a voz: raiva, muita raiva. Do fundo da cela, lá atrás, uma gargalhada:
— O sol, seu delegado!
Eu sorri. Na minha frente os dois, marido e mulher:
— Ele é perigoso.
— É, como nós.
Corri, como corri! Ele sorriu também, esqueceu o vinco, mas no fundo só a lama, da água só a lembrança dos remédios… lá do lado de lá não tem remédio pra dormir, pra acalmar, pra não pensar na árvore do hospital plantada lá em casa, mas nada da minha mãe… já vou, já vou, não demoro, caminho sempre há. Um pouco só de calma, de discernimento, do acolhimento da filha da vizinha quando olha por dentro, queimo inteiro por dentro! Quem sabe um remédio pra não mulher… Mas é isso! Só pode ser! A mulher do Dr. Amigo junta remédio tem mais de ano, doa pra morena que passa triste na rua de não cantar.
— Ei, morena! Basta cantar.
Lá do lado de lá é só cantar. Locomotiva, já chego, já, que a vida não quer esperar o ponto avesso de uma estranheza como só Nosso Senhor sabe mandar. Morro acima o Senhor pede que eu vá avistar a água do mar azul cheia de sol a me envolver, pura força maliciosa da vizinha plantada em árvore no jardim em cima do túmulo esperança, onde me deito pra poder voar, pra poder sonhar com a flor bordada na camisa de uma criança a rir no colo da mãe, chacoalhando um mais inesquecível ou invencível ou irascível fincado na gota de chuva amorosa que brotou do mar.
— Amar! Amar!
Amarga a tempestade de gotas precisas do menos desdentado do lado de lagarto invencível, pegajoso, pestilento, coroando as risadas dos plebeus azularando o cosmogonauta solar perdido no zoológico.
— A falar cada vida estrevancada na voz calma de sombra do sol que bindola e amedronta a ponta dormente do pistilo
preciso da palavra fertilizada pelo céu que avisa da fonte da vida guardada lá do lado de lá que é muito melhor para senhoras se regozijarem nos pingos de chuva que chegam às roupas azuis e amarelas penduradas no varal do além
— mar crispado por força e gratidão de ser que desditoso chefe amplifica ao suadouro enluarado mais ou mente a forca dos martírios numitindelo a mãe esfacelada por facacistas de coração riscado com a promessa distinta
de nunca esquecer deste mais brigarando um menos chincalhado de britadeiras brasileiras
bronzeadas sob o solar
só o solar
o solmar
— Tá chovendo, rapaz.
a sol
— Vem comigo.
sol
Gargalhavam, mas ela não ria mais.
— Vem.
Pelo braço, porta adentro; o espaço que ela guardava para si.
— Vai adotar?
Mais risadas, mas ela seguiu o caminho todo, surpresa consigo mesma: melhor mesmo deixá-lo na chuva e continuar a rir, amanhã nem sinal. Mas hoje…
—Você vai pegar uma gripe.
Ele a olhava em silêncio, meio perplexo, nada mais da salada de palavras de antes, feliz por inteiro. De tudo o que ouvira só quando ele gritou “amar”, foi o que bastou. Estranha palavra a se perder em meio à confusão, como se se escondesse, camuflasse entre as outras para não ser ouvida.
— Vai tomar um banho.
Tentava acertar os pensamentos, justificar-se: um homem perdido, não pode ficar assim.
— Pode usar a toalha azul.
Foi ao telefone, uma busca de ajuda: polícia? bombeiros? quem sabe algum serviço médico… mas não soube.
Preparou uma cama no sofá da sala, tudo o que podia, e um sanduíche de presunto, o que tinha.
Ao deitá-lo quis sorrir, mas não pôde. As risadas, as fofocas, seu marido… mais de ano…
— Você está bem?
— Sol.
Filho de alguém…
Logo ele dormia e lá fora a chuva deixou.
— Amanhã, quem sabe?
Cabeça no travesseiro se estranhou mais uma vez: um completo estranho… e nenhum medo. Riu-se, meio envergonhada, depois ficou séria:
— Gritou “amar”.
Um completo estranho… e dormiu também.
Seis horas e o sol. Chuva lavadeira, o dia chegou claro. Um pouco de frio e nem uma vontade de se mexer, mas inspira, que gota de manhã não se deixa escapar e fome de dia se segura e mantém. Ainda um pra se saciar.
Televisão, cruz na parede e a janela aberta pra despertar. Tanto tempo sem um despertar…
— Lembra o banheiro? A toalha azul?
Ah! Chove, chuva, chove… Pinga o arco-íris que é tão raro ter olhos pra ver. Luz e água, só luz e água, e muito mais…
— Sua roupa tá seca. Em cima da mesa.
Acolhimento. Só um pouquinho… Camisa amarela, calça azul; velha e limpa. Um pouco de sal, pitada de pimenta; simplicidade tá no toque. Adoro pimenta!
— Dona, queria agradecer…
Que cozido cheiroso!
— Cê num vai embora sem comer alguma coisa, não.
Como cheira bem!
— Imagina, dona. Minha mãe tá lá do lado de lá me esperando.
Cheira desconhecido, parece que cheira um aviso…
— Mãe não cansa. Senta aí.
Cheiro oferecido, alegre.
— Que qui tem na panela?
Ela riu.
— Cê vai ver…
Eu ri também.
— … cê vai ver…
E cheiro lá pode cercar, cuidar? Esquisitice de mulher, de mãe.
— Dona, cê tem filho?
Alho, farinha, gordura… água fervendo. Dali mesmo o cheiro? Pimenta! Que cheiro é esse, afinal?
—Bem eu queria…
Cheiro do… cheiro de… cheiro de amor?
— Sol?
Ela se enterneceu, gostou.
— Fala.
Sorriu.
— No lado de lá? Tem esse cheiro?
Riu.
— Que cheiro?
Ele ficou encabulado, baixou o rosto. Mas de repente não havia mais o que esconder:
— Sol!
Ela, surpresa, enrubesceu; de sol a sol um universo. Quis não fugir, responder como fizera antes, mas o corpo, digo, a voz gaguejou. Serviu-o, sentou-se, serviu-se também, mas só quando ele pediu mais conseguiu olhá-lo:
— Qual o seu nome?
Enrubesceu ele então, e gaguejou também, baixando o olhar por fim. Ela, ternura, ardor, tocou-o:
— Está tudo bem.
E assim comeram, e aí a hora de ir. Ele mencionou um toque, que ela procurou, mas o medo a confundia demais:
— Cuide-se bem.
Céu aberto, sol alto, um passo. Tempo de sobra, nuvens poucas, dois. Só um pouquinho de carinho, acolhimento só. Mais nenhum.
—Sol, posso ficar?
Queria tanto ouvir a pergunta, tanto… E a coragem? Mas era um estranho, um completo estranho. É claro que não. E a coragem?…
— Até amanhã…
Amanhã? Sim, até amanhã… mas e os vizinhos, e seu espaço, e o marido? Amanhã… bem sabia ela que amanhã nunca é hoje, é sempre depois.
— Olha…
Não conseguiu completar, olhou o chão. Ele sorriu triste, mas mesmo triste quis a alegria para se despedir:
— Muito obrigado. De verdade mesmo.
E se foi.
Ela o olhou e, enquanto olhava, sentiu um sentimento engraçado, estranho àquela certeza de que ele deveria ir. Sentindo-o com prazer, deixou que fosse a tomando, achando divertido o jeito que vinha surgindo, meio escondido, camuflado mesmo entre tantos outros sentimentos, como se não quisesse ser percebido. Quando quase se ria conheceu e mais do que rápido escondeu-o de novo. Isso lá era hora? Tanto tempo! Isso lá é hora…
E tudo num segundo, tudo em dois ou três passos, que assim ela decidiu deixar serem quatro, cinco… mas não mais. Noutro segundo, luz exígua, verdadeira, pescou seu amor lá do fundo e deixou que lhe enchesse de coragem.
— Moço!
Os vizinhos, os vizinhos também ouviram… Mas, ora, que se danem os vizinhos!
— Ei!
Virou-se e, talvez medroso, não confiou. Pensou num adeus, num sorriso, não quis acreditar.
— Até amanhã?
Balançou a cabeça com um sorriso envergonhado e começou a voltar. Ficou feliz, muito feliz. Chegou mesmo a pensar: será que encontrei? É aqui o lado de lá? Mas em tal alegria uma ponta de tristeza: amanhã. Demora amanhã?
Ela sorriu:
— Pode ficar.
E a ponta da tristeza se quietou. Afinal, se ali não era o lado de lá, o lado de lá é ali, amanhã.
Pois fiquei, até amanhã.